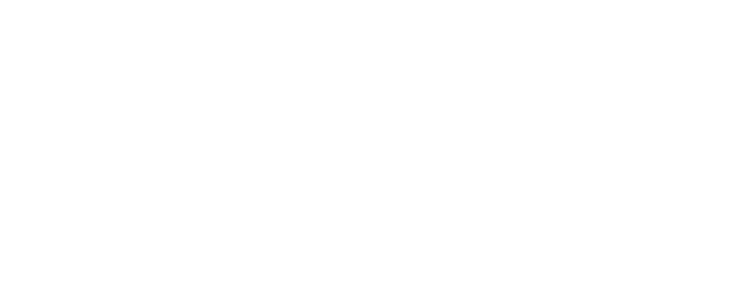A Europa, berço da civilização ocidental, terra das luzes, do pensamento e da solidariedade, que gerou homens como Aristóteles, Cícero ou Platão; Leonardo da Vinci, Fra Angélico ou Miguel Ângelo; Camões, Shakespeare ou Cervantes; Agostinho, Tomás de Aquino ou António Vieira; Carlos Magno, Carlos V ou Manuel I de Portugal; Mozart, Bach ou Beethoven; que emergem como fachos incandescentes de um extenso e rico mar de pensadores, homens de ação e construtores de impérios e de um mundo melhor, cujas portas franqueou a uma sã convivência de raças e de credos, parece mergulhar nos nossos dias num escuro e profundo abismo isolacionista, empenhado em fechar as portas que com tanto esforço, sangue sofrimento foi capaz de abrir.
À cultura e à matriz europeia de que os europeus tanto dizem orgulhar-se, pertencem, também, os legados que até à Europa foram trazidos por outros povos e outras culturas. Árabes incluídos.
Neste pequeno recanto final da Europa – e no resto da península Ibérica, também – que antecede a aventura marítima da descoberta de novos mundos e do lançamento de uma primeira ideia do homem global que hoje é o ser humano, os Árabes deixaram um precioso legado, que não é possível menorizar e muito menos esquecer.
Nas artes, nas ciências ou na arquitetura, entre outros exemplos que poderiam ser citados, essa herança recebida dos povos do norte de África e do Oriente Médio que até ao século XV conviveu connosco, está tão presente no dia-a-dia europeu, peninsular e português que mal damos por ela: o zero e a numeração árabe, sem os quais talvez não soubéssemos contar; o esplendor do Alcazar de Toledo, que nos enche os olhos e nos inebria os sentimentos; ou os sublimes poemas herdados de Al-Mu’tamid, Ibne Hamdis ou Ibne Zaydun, são alguns, entre muitos, dos criadores do Al Andaluz, que podem ser apontados como exemplos dessa superior convivência e da interpenetração cultural e social entre mouros e cristãos, que tanto contribuiu para moldar, século atrás de século, a personalidade dos povos da Europa.
Hoje, porém, os Árabes como que personificam e desempenham o papel número um de inimigo da Europa, acantonado dentro das suas fronteiras, numa altura em que generalizadamente se confundem as práticas sectárias de alguns muçulmanos com a totalidade dos povos árabes da outra margem do Mediterrâneo, cujas pátrias sofrem um dos mais atrozes e sangrentos conflitos armados, que nem a nossa mais fértil imaginação, amansada por algumas décadas sucessivas de paz quase total, é capaz de conceber.
É claro que há diferenças e divergências entre os europeus de matriz cristã e os árabes que conhecemos hoje, ou os mouros que conviveram com os nossos antepassados, até ao final da Idade Média, contra os quais, vale recordar, Roma e quase todos os monarcas e príncipes europeus se armaram em cruzada, dentro das suas próprias fronteiras, primeiro, e no norte de África, depois.
Sobre a convivência de europeus e árabes, mais especificamente sobre a convivência entre portugueses e mouros, escreveu Manuel de Faria e Sousa em 1677 (na sua Epítome das Histórias de Portugal) que no ano 816 as províncias de entre Guadiana e Tejo caíram em poder dos mouros. E acrescentava naquela obra que, por trezentos e quarenta e nove anos interruptos os maometanos pesaram sobre a população cristã, que no lugar ficara depois da decaída monarquia visigoda.
Não eram os mouros intolerantes com os cristãos; alguns emires era até generosos e inclinados à justiça.
Outro notável estudioso desta época histórica (Deping, in Histoire Genérale de l’Espagnhe, livro 5, capítulo 4º), que também produziu os seus estudos no século XIX, ao fazer a crítica das relações entre mouros e cristãos na Península Ibérica, cita o moderado foral concedido pelo poder muçulmano a Coimbra onde, a dado ponto, se podem ler as seguintes pérolas:
As igrejas pagarão: 25 peças de boa prata por uma igreja ordinária, 50 por um mosteiro, e 100 por uma catedral.
Os cristãos terão em Coimbra um conde de sua própria nação que os governará.
Nos lugares pouco consideráveis, os cristãos terão seus juízes, que os governarão bem e sem discórdia.
Se um cristão violentar uma mulher moura, desposá-la-á, ou far-se-á mouro, ou morrerá.
Os padres dirão missa à porta fechada; fazendo o contrário, pagarão 10 peças de prata.
Noutro registo, José Maria da Graça Affreixo, autor de uma celebrada Memória Histórica e Económica do Concelho de Serpa, no Alentejo, nela escreveu, em 1884, que nos recuados tempos do século IX (quando os mouros eram senhores do território de Portugal), apesar da liberdade, que os cristãos gozavam, de seguir seus ritos e costumes, um abismo profundo e intransitável delimitava os campos das duas crenças.
Entre cristãos a mulher, esposa e mãe, tinha uma importância decisiva nos negócios da família; o amor, santificado como sacramento, criara-lhe uma auréola de encantos místicos, no seu papel de companheira de alegrias e consoladora de mágoas.
Para os mouros a mulher, puramente escrava ou flor de harém, não tinha dignidade; vivendo só para a concupiscência, vigiada por eunucos ferozes, sem cuidados de mãe junto ao berço do filho querido de suas entranhas, sem expansões de entusiasmo pelas glórias do esposo, passava de senhor, como qualquer objeto de negócio ou de presente.
Apesar dos progressos entretanto vividos pela Humanidade, parece por demais evidente que, doze séculos depois, as raízes do conflito entre estas duas comunidades religiosas e as culturas em que elas entroncam se mantêm vivas, tal como então.
Isso, contudo, não pode nem deve ser razão suficiente para que cristãos e mouros continuem a hostilizar-se, como se, por pensarem de maneira diferente, inimigos fossem.
Os europeus tiveram a arte de sublimar os seus conflitos e souberam construir, num longo e penoso caminho de séculos, que até foram atravessados por múltiplas e fratricidas guerras e por inúmeras e intermináveis disputas ideológicas, políticas e sociais entre si, um continente de paz, de concórdia e de solidariedade, onde todos e cada homem deve poder ocupar um lugar próprio – independentemente da raça, da nacionalidade, do credo ou das suas opções políticas e ideológicas.
Nesse espaço cosmopolita que agora tende a fechar-se ao mundo e ao outro, os árabes – os mouros do nosso tempo – decerto que continuam a ter direito a um lugar.
Não é necessário que recuemos ao tempo em que os emires detentores do poder muçulmano em Coimbra impunham aos seus compatriotas cristãos pesadas coimas e outras duras obrigações para que pudessem praticar o seu culto, ou para que pudessem relacionar-se com mulheres muçulmanas, invertendo agora os papéis de cada cultura.
O que se impõe, isso sim, é que subsista uma clara noção de respeito mútuo e de tratamento recíproco, que reconheça as diferenças sem tentar eliminá-las à força, que admita a sã convivência entre as comunidades de matriz cristã e ocidental e as suas congéneres de raiz árabe e muçulmana – porque ambas fazem parte, em última instância, de uma mesma matriz judaica, que a ambas antecedeu.
Será difícil? Certamente que sim. Mas também é certo que só com essa postura de tolerância, comprometimento e aceitação do outro, será possível, pelo menos aos povos de fé cristã, cumprir o superior mandamento divino: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Joaquim de Matos Pinheiro